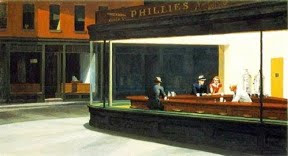Mais uma de Chicago. Num só dia vi uma das óperas mais fantásticas de todos os tempos (ou será a mais fantástica?) e fui apresentada a uma experiência completamente nova nas artes.
Começando pelo começo, no início da tarde fomos à Lyric Opera de Chicago, ver Carmen. Ópera tem umas coisas engraçadas. A de hoje era o fato de Don José ser coreano. Pensei que isso jamais funcionaria. Tá certo que, na hora das lutas de faca, ele sempre parecia mais hábil que o Don José da minha imaginação, mas Yonghoon Lee roubou a cena. Deu até pena da Carmen, se é que isso é possível. Sobre a ópera, preciso dizer como me encantou o libretto. Ou talvez a história original, de Prosper Mérimée. Já me queixei com alguns amigos especialistas no assunto sobre o exagero em alguns librettos. Parece que, numa encruzilhada, sem saber como explicar a mudança de um personagem, lança-se mão de um feitiço, uma distração, e pronto! Coisa que em novela das oito seria duramente repreendida. Pois em Carmen, isso nunca acontece. São todos humanos, demasiado humanos, até. E com tudo isso, ainda tem a música de Bizet, que dialoga tão perfeitamente com o canto, que somos transportados imadiatamente a Sevilla. Quatro horas que parecem duas. Demais.
Saímos em êxtase de lá e seguimos para o que seria a maior revelação dos últimos tempos. Fomos ver nosso primeiro espetáculo de Butoh. Já tinha visto o Sankai Juku no cinema, em "Cherry Blossoms". Fiquei super curiosa e quando vimos que eles estariam no Harris Theater corremos pra comprar ingressos. Pois não era nada do que eu estava esperando.
Já falei algumas vezes nos orientais por aqui, especialmente do cinema. E mais especialmente ainda, do Koreeda, de quem sou fã incondicional. Mas nada havia me preparado para aquele espetáculo. Em seis cenas, Amagatsu Ushio nos apresenta a vida. Da escuridão do útero, ao peso da solidão, da culpa, à descoberta de si mesmo. E o mais maluco é que a gente sente tudo isso, reflete sobre nossa própria vida.
No palco, um pó fino, como de um jardim japonês, cria desenhos de altos e baixos, como os dias. Grandes vasos, mais semelhantes a centros de mesa cheios de água, se espalham pelo chão. Em alguns deles, pequenas gotas continuam caindo. O ritmo é lento. Tão lento que nem parece se tratar de uma dança, mas de uma sucessão de quadros. O pintor em questão dá preferência a cores primárias e a um jogo de luz de deixar Vermeer cheio de inveja. É claro que essa experiência é dolorosa. Tanto que dezenas de espectadores deixaram a sala durante a performance. Quem resistiu até o final ganhou uma viagem pelo inconsciente que nem a melhor das meditações é capaz de guiar. Obrigada, Chicago.